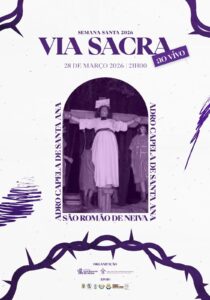Paolo Scquizzato é padre italiano. Natural de Beinasco (Turim) onde nasceu em 1970, tem uma imensa obra publicada em Portugal de que se destaca “O Elogio da Imperfeição”, “O Engano das Ilusões” e “Das cinzas à vida”, sobre a vivência da Quaresma. Aceitou falar com o Notícias de Viana precisamente sobre este tempo litúrgico que agora vivemos, sobre o silêncio e sobre a superficialidade em que nos afogámos.

Associamos a Quaresma a um tempo de luto e de tristeza profunda. Será mesmo assim? Quais os verdadeiros tons deste tempo?
O termo Quaresma lembra, de facto, um clima de tristeza, invocando palavras como renúncia, jejum, abstinência, pecado e, sobretudo, cinza. Em suma, uma atmosfera lacrimejante, em que parece que devemos melhorar-nos para agradar a um Deus cioso no Céu, que aplaude os sacrifícios cumpridos para O fazer feliz. Bem, a Quaresma cristã nada tem a ver com este arsenal religioso. Os quarenta dias que a Igreja coloca diante de nós são, antes de mais, um tempo de consciência e de atenção à vida espiritual, em que, privilegiando o silêncio e a oração, nos recentramos em nós próprios, experimentando o renascimento da nossa humanidade, um dar-se à luz, uma verdadeira iluminação. Por isso, não é um período de mortificação (“O Pai não é um Deus de mortos, mas de vivos” – cf. Lc 20,38) mas de vivificação, inaugurado pelo sinal das cinzas, como antigamente os nossos antepassados colocavam nos campos, no final do Inverno, como promessa da fecundidade que a Primavera trazia. Um período de alegria profunda, sabendo que, repousando no centro incandescente de nós mesmos, podemos sentir-nos em casa.
Como comunidade cristã, que desafios devemos lançar na quaresma?
São dias – como dissemos – particularmente dedicados ao silêncio. E fazemos silêncio para poder escutar melhor, Deus, certamente, mas também a voz dos pobres. Pelo que creio que a Quaresma é um tempo de escuta das mulheres e dos homens que neste mundo não têm voz, os últimos, os invisíveis, os refugiados, os excluídos, pois é na sua história que Deus nos quer encontrar, é nestas pessoas que Ele estabeleceu o ponto de encontro, o abraço. Este é o desafio: uma comunidade atenta, participativa, presente e sempre pronta a servir os últimos e não a servir-se dos últimos para seu próprio interesse. Recordando o que um padre da Igreja dizia: «não há caminho mais curto para chegar até Deus do que aquele que passa pelo irmão».
Quais julga serem os nossos principais obstáculos e equívocos na relação com Deus?
Convenço-me, progressivamente, que o grande erro de uma certa religião é considerarDeus um ser distante, destacado, “outro” refugiado no mais alto dos céus e que guarda este mundo ofegantemente, e que procura ser invocado a partir da insuficiência humana como grande criador de tudo o que sufoca os Seus filhos. A tradição mística – cristã, mas em realidade, de todas as grandes religiões – recorda-nos que Deus deve ser pensado, antes de mais, como parte de tudo, e tudo como parte de Deus. Neste sentido, podemos pensar num anel de ouro. Se se quisesse ter só o anel sem o ouro seria impossível. São inseparáveis. Configuram uma totalidade indivisível. Esta é a relação entre Deus e a criação, e entre Deus e as criaturas. Outra imagem que nos pode ajudar é a da onda e do oceano: a onda é oceano, mesmo sendo outra coisa que o oceano. Em realidade, a mística recorda-nos que a relação homem/criação/Deus se joga precisamente neste nível. Em suma, a criação é uma manifestação histórica da divindade, como a matéria o é da luz. No fundo, esta intuição já a teve São Paulo, quando aos atenienses disse: “Nele vivemos, nos movemos e existimos.” (At 17,28). Sim, estou convencido que o Cristianismo, ou cumprirá uma passagem para a experiência mística, ou está destinado a extinguir-se.
Acompanha diversas pessoas e grupos. Como descreveria as inquietações que encontra?
A resposta a esta pergunta está interligada com aquilo que disse anteriormente. As mulheres e os homens que encontro, mesmo os jovens, são sobretudo pessoas que estão cansadas dos caminhos oficiais propostos pela Igreja Católica. Trata-se de gente desiludida das Paróquias, de certos grupos e movimentos eclesiais, e que procuram uma água diferente que, finalmente, possa estancar aquela sede que sentem de um modo muito forte. Do mesmo modo que a mulher samaritana no poço, à procura da água viva. Não é verdade que as pessoas estejam desinteressadas do Divino. Estão sedentas de religião e de práticas. Estão é cansadas de um estéril moralismo que lhes diz unicamente “tu deves”; e o facto é que a postura do “tu deves” ou “não deves” não fizeram progredir um milímetro, a humanidade. Não será uma moral a fazer florir o humano. Que a Igreja saiba identificar percursos de autêntica espiritualidade que ajudem ao encontro com a fonte interior que qualquer um tem dento de si, que ajudem verdadeiramente a rezar e não somente a recitar orações, que saiba fazer companhia de viagem a todos, mas mesmo a todos, mesmo àqueles com histórias, sabendo dizer “Tu és precioso mesmo assim”, “Sabes que Deus te diz: tu és a minha manifestação predileta.”
Sem julgar, sem condenar, sem afastar ninguém porque Deus não tem filhos de 1ª liga e de 2ª liga. Só tem filhos prediletos.
Em que superficialidade estamos a afogar-nos?
Estamos afogados na superficialidade. Na vida, é na superfície que nos afogamos, não na profundidade, onde encontramos as coisas mais belas. A nossa sociedade é a sociedade das necessidades e, como crianças caprichosas, fazemos birra até estarmos satisfeitos. O aspeto dramático de tudo isto consiste no facto de confundirmos desejo com necessidades/caprichos. O desejo é a sede implacável por aquilo que nos falta, mas a sua grandeza está no facto – paradoxal – de que não poderá ser saciado: “a diferença do desejo face à necessidade, é que este não conhece saciedade” (Serge Latouche). A necessidade é satisfeita para deleite do sujeito, o desejo não. A grandeza do ser humano consiste numa tensão em direção àquilo que intuiu como o cumprimento da sua própria sede, mas sem fazê-la desaparecer plenamente. “A estrada é a meta”, diz a tradição taoista. Isto, cuidado, também se aplica a Deus; por isso falo sempre do “Deus inútil”. Se Deus fosse útil para a satisfação do nosso desejo, na realidade seria apenas um ídolo, que satisfaz as nossas pequenas necessidades. Deus é apenas mistério e, como tal, indisponível!
O que é que há dentro do silêncio e da oração?
A Quaresma é o momento privilegiado para o cristão crescer na oração. Costumo dizer que orar não é recorrer a orações, isto é, a palavras. E isto recorda-nos, até, Jesus, numa passagem do Evangelho de Mateus: «Na oração, não usei muitas palavras como os pagãos que acreditam que são ouvidos pela força das palavras» (Cf. Mt 6,5). Orar não é colocar a divindade atenta às nossas necessidades, curvando-a às nossas necessidades; em suma, não se trata de uma questão de ter, mas sim de uma “abertura para ser”. Acredito que a oração é, acima de tudo, um abandono de tudo o que se refere ao nosso pequeno eu: palavras, pensamentos, julgamentos, expectativas, desejos, e no vazio que surgiu, nosso verdadeiro eu, a divindade, Deus, pode finalmente emergir e fecundar-nos, transformando-nos Nele, porque não encontrará mais obstáculos. Portanto, aqui se define o silêncio, indispensável à oração: o espaço da não presunção, para que o Todo possa finalmente abraçar-nos. Na verdade, a questão não é “guardar silêncio” durante a oração, mas ficar em silêncio: as mulheres e os homens que abandonaram o seu ego ficam maravilhados por se terem transformado no próprio Deus.
É recorrente afirmar que “o Cristianismo não é uma religião, mas uma fé”. Pode explicar-nos melhor esta afirmação?
A religião é a tentativa feita pela humanidade de se vincular (em italiano há uma assonância entre as duas etimologias) à divindade. Com palavras, gestos, cultos, ritos, caminhos morais, subimos ao céu na esperança que um Deus benevolente nos abra a Sua porta.
A fé é exatamente o oposto: confiança de que se está habitado pela divindade. Fé é abrir os braços, renunciando à conquista de algo ou de alguém pelos próprios méritos, e alegrar-se com o que já existe.
O amor não se conquista; participa-se nele. Não somos chamados a ligar-nos a um Deus lá em cima, através de prestações cultuais e morais. Já estamos dentro do divino, só temos que nos consciencializar disso. Fé é, portanto, participar do que já somos, e aceitar deixar-se transformar aos poucos.
“Por último virá a morte… e depois?” é o título de um dos seus livros. Que resposta a esta pergunta pode ajudar-nos a ser mais humanos?
A tragédia da pandemia que afetou o mundo inteiro confrontou-nos com a dura e crua realidade da morte. De um tabu impronunciável, agora ela está diante dos nossos olhos, todos os dias. Agora não estamos autorizados a exorcizar a morte com um vago “nós morremos”, porque a morte tocou o nosso coração, o círculo de amigos, parentes e talvez a nossa própria família.
Acredito que parar para meditar sobre a morte impede-nos de encontrar respostas para a terrível pergunta “por que morremos”, mas, pelo menos, ajuda-nos a viver esta vida de uma maneira diferente. “Quem ensina os homens a morrer, ensina-nos a viver” (Michel de Montaigne). Eu acredito que Jesus fez exatamente isso. Em vez de filosofar sobre a morte e o “depois da morte”, Jesus ensinou-nos como viver aqui e agora, lembrando-nos que se começarmos a amar a ponto de dar a vida, ou seja, carregando todas as consequências do amor, viveremos plenamente, de um modo realizado.
Lembremo-nos das palavras de Jo 12,24: “Se o grão de trigo que caiu à terra não morre, fica só; mas se morrer, dá muito fruto».
Portanto, só há uma maneira de não morrer para sempre: viver a partir da vida. Ou seja, trazer à luz todo o nosso potencial interior, viver de acordo com a energia divina que nos habita, despertar de um sono que nos faz andar pelo mundo como cadáveres. E começando a dar vida – ressuscitando – todos os cadáveres que se movem ao nosso redor.
Como devemos ler o momento presente?
Neste momento, estou a orientar uma série de encontros sobre a extraordinária figura de Etty Hillesum. Essa mulher, uma jovem judia holandesa, guardou por certo período de tempo, até à sua morte no campo de extermínio de Auschwitz, um diário que considero um dos pontos altos da literatura do século XX. Neste diário, Etty, ao descer ao inferno, percebe a vida como algo extraordinariamente belo. Apesar da morte, do sofrimento, do ódio, ela considera a vida digna de ser vivida em plenitude. Ela contempla o jasmim atrás de casa, as rosas na sua mesa; ela afirma que se descobrir um único alemão não contaminado pelo ódio, então haverá uma razão para salvar toda a nação alemã. Mas como esta jovem consegue expressar este horizonte? Etty percorre todas as manhãs a fonte subterrânea dentro de si mesma, e lá ela bebe, transforma-se, ilumina-se e lança luz ao seu redor, mesmo no meio da escuridão mais desolada. O Amor que ela atrai é como um colírio que transfigura a realidade cada dia mais dramática.
A questão não é o mundo em que estamos imersos, mas os olhos com os quais o olhamos. Tudo começa connosco; é inútil querer mudar o mundo. É apenas começando a transformar o nosso mundo interior, que o mundo inteiro se transformará.
Por isso, acredito que o momento presente é o melhor de todos os tempos, porque é o nosso, aquele que a História nos chamou a habitar. Cabe-nos a nós torná-lo num inferno ou num paraíso, e faremos dele um lugar de vida e beleza na medida em que aprendermos a investir as nossas melhores energias para fazer o trigo crescer, removendo efetivamente o oxigénio do joio que sempre habitou aquela terra, chamada História dos Homens.
Notícias atuais e relevantes que definem a atualidade e a nossa sociedade.





Espaço de opinião para reflexões e debates que exploram análises e pontos de vista variados.